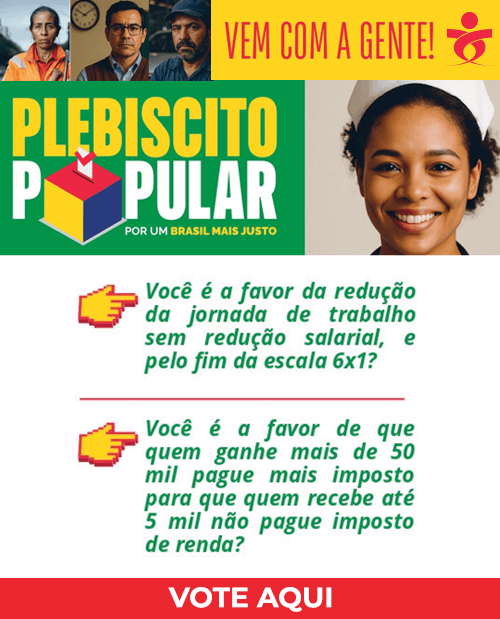São Paulo - Em artigo no site Brasil 247, do qual é diretor, o escritor e jornalista Paulo Moreira Leite analisou texto do banqueiro Roberto Setubal, publicado na Folha de São Paulo, no qual o dono do Itaú e um dos homens mais ricos do país defende a reforma trabalhista de Temer, que implode a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) ao alterar mais de 100 dos seus artigos.
> Por que Setubal defende a reforma trabalhista?
> Santander defende desmonte trabalhista de Temer
> Em nota, Bradesco defende reformas
Em seu texto, o jornalista mostra os interesses por trás da defesa pública de banqueiros em relação à reforma trabalhista, chamada por eles de "modernização da legislação". Embasado em dados do setor financeiro e estudo da OIT (Organização Internacional do Trabalho), Paulo Moreira Leite desconstrói a tese de Setubal de que "capital e trabalho são parceiros, estão no mesmo barco".
Confira abaixo a íntegra do artigo de Paulo Moreira Leite e entenda as razões para que banqueiros defendam publicamente a retirada de direitos dos trabalhadores:
Os interessados num curso rápido sobre Política Brasileira nos tempos de Michel Temer-Henrique Meirelles devem debruçar-se diante do artigo "A importância da Reforma Trabalhista", do banqueiro Roberto Setubal. Um dos homens mais ricos do país – em 2012 a Forbes estimou sua fortuna em R$ 6,2 bilhões – Roberto Setúbal é um dos herdeiros do Itaú Unibanco, o maior banco do país, com ativos da ordem de R$ 1,4 trilhão. Foi o principal executivo da instituição nas duas últimas décadas. Há menos de um mês, o banco anunciou sua substituíção por Cândido Bracher.
Numa época em que a maioria das empresas enfrenta a pior recessão desde 1948 e os brasileiros encaram um desemprego como nunca foi registrado, os bancos em geral e o Itaú em particular acumulam números risonhos de prosperidade. No primeiro trimestre de 2017, o lucro da instituição chegou a R$ 6,05 bilhões. Foi um crescimento espetacular – 19,6% – em comparação com o ano passado.
Como era previsível considerando seu papel destacado na articulação que derrubou Dilma, o Itaú emplacou um homem de confiança na posição mais estratégica do mercado financeiro: Ilan Goldfarb, presidente do Banco Central, era o economista-chefe do banco. Num sintoma das mudanças implementadas desde então, nunca mais se ouviu os porta-vozes do Estado Mínimo engrossarem o coro sobre a Independência do Banco Central, que tanta discussão causou na campanha de 2014. Não é mais preciso, pois o mercado passou a mandar.
(E manda tanto que, mesmo em caso de queda do presidente da República, os patronos do golpe já trabalham para que a equipe econômica permaneça intocável).
Poucos meses depois da posse de Temer no Planalto e de Henrique Meirelles na Fazenda, os bancos estatais, que haviam reforçado a musculatura na década anterior para acolher clientes abandonados pelo setor privado, começaram a ceder espaço. Enquanto o BNDES era esterilizado, o Banco do Brasil perdeu tamanho: 400 agencias foram fechadas e outras 400 foram reduzidas a postos bancários. Em nome do equilíbrio financeiro, as instituições que haviam assumido a liderança na recuperação de 2008-2009 tornaram-se menos competitivas, abandonando o esforço de ampliar a própria clientela. A Caixa passou a cobrar a segunda maior taxa de juros do crédito rotativo. O Banco do Brasil tornou-se dono do juro mais alto, entre os cinco maiores bancos, para a compra de veículos. Não surpreende que, com a economia em queda, o estoque geral de crédito tenha encolhido. A redução foi da ordem de 6,4% em relação ao ano anterior. Mas a queda foi maior entre bancos estatais – 7,7% – do que nos privados, 4,8%.
No esforço para embelezar um projeto rejeitado pelos brasileiros na proporção de 5 contra 1, conforme pesquisa DataFolha (2/5/2017), Roberto Setúbal emprega termos que a atual moda ideológica chamaria de "populistas". Escreve que "capital e trabalho são parceiros, estão no mesmo barco".
É fácil enxergar, contudo, o risco de afogamento para quem não tem hospedagem garantida na primeira classe e compreender que a desregulamentação – peça chave da reforma – implica, em primeiro lugar, em maiores facilidades para demitir e desempregar.
Ficando no caso específico. Entre janeiro de 2013 e maio de 2017, os bancos suprimiram 45 419 postos de trabalho, fechando, em caráter permanente, vagas que abrigavam perto de 10% da categoria. Desse total, quase a metade – 20.553 vagas – foram extintas em 2016, o ano em que Dilma caiu. Outras 9 621 foram fechadas nos primeiros cinco meses de 2017. Não se fala, aqui, da velha rotatividade de mão de obra, utilizada pelas empresas para pegar de volta o reajuste de salário entregue depois de cada dissídio. É supressão de emprego, sem volta.
Numa área onde a jornada de seis horas, fixa em lei, é alvo de uma guerra constante de funcionários e empresas, Setúbal apoia a jornada intermitente – aquela que não tem hora para terminar nem para acabar, tudo de acordo com a disponibilidade do patrão-freguês, transformando o trabalho de cada dia numa "servidão voluntária," como lucidamente definiu o ministro Maurício Godinho Delgado, do TST.
Claro que Setúbal acha que a aprovação da terceirização ampliada foi uma boa ideia e reclama que o Brasil tem sindicato demais. Defende o fim do imposto sindical com palavras liberais: "a proposta oferece ao trabalhador um novo direito: o de escolher se quer ou não contribuir para a associação de sua classe profissional." Mas nada diz sobre o Sistema S, que garante às entidades patronais uma receita exclusiva de R$ 16 bilhões, que transforma o imposto sindical, do ponto de vista patronal, em mesada para crianças. Setúbal também imagina que o país vai sair ganhando caso a Justiça do Trabalho deixe de ser gratuita – e se, antes lutar por seus direitos, todo assalariado for obrigado a pensar duas vezes antes de entrar com uma ação que, em caso de derrota, irá custar multas impagáveis no horizonte de quem vive de salário.
Um dos principais defensores da noção de que os problemas atuais da economia brasileira são herança direta dos anos Dilma, Roberto Setúbal defende as reformas em tom apocalíptico. "Computando as projeções de mercado, só em 2021 vamos recuperar o nível anterior, completando oito anos sem crescimento de renda. No mesmo período, a renda média mundial terá crescido, aproximadamente, 20%", escreve. "Nesse contexto se insere a necessidade de fazermos reformas."
Entrevistada pelo 247, a dirigente sindical Juvandia Moreira Leite (sem parentesco com o autor destas linhas), que acumulou sete anos a frente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e tem um mandato de vice presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Setor Financeiro, diz que "os argumentos a favor da reformas estão errados pelo princípio. Em poucos países como o Brasil as empresas tem tanta facilidade de demitir, como provam os 45 000 empregos de bancários suprimidos em cinco anos. Além disso, você não consegue explicar a rotatividade anual da mão de obra, sem reconhecer a facilidade para demitir funcionários."
Para Juvandia, "o que os patrões querem é regularizar o bico, impedindo que seja motivo de ações futuras na Justiça."
A consulta a um estudo com a chancela da Organização Internacional do Trabalho ajuda colocar o debate no devido lugar. Trata-se de um levantamento em 110 países, que avalia os efeitos dos programas de desregulamentação aplicados a partir da crise de 2008-2009, disponível em inglês ("Drivers and effects of labour market reforms: Evidence from a novel policy compendium"). Nos parágrafos finais, após dezenas de gráficos e tabelas, chega-se a uma conclusão instrutiva – os trabalhadores nunca saíram ganhando.
No menos pior dos casos, pode-se perceber, os trabalhadores se sacrificaram, abriram mão de direitos anteriores em troca da promessa de mais empregos, mas as novas vagas não vieram. Sem qualquer espirito panfletário, como convém a uma instituição que representa pontos de vista de governos diferentes e até opostos, o documento fundamenta suas conclusões com argumentos técnicos. Avaliando mudanças sobre a jornada de trabalho (74% dos casos), contratos temporários (65%) e demissões coletivas (62%), mostra que em boa parte dos casos avaliados a desregulamentação teve um efeito nulo ou "estatisticamente insignificante" na criação de empregos.
Mas o caso é diferente, mostra a OIT, quando se analisa a situação de países que resolveram aplicar programas de desregulamentação no meio de uma crise econômica. Como podemos imaginar, é justamente este o caso do Brasil de Temer. O impacto das mudanças, neste caso, agrava a crise no emprego em vez de aliviar. "Quando os efeitos das reformas são examinados em diferentes momentos do ciclo econômico, o resultado confirma a hipótese de que, implementadas em tempos de crise, intervenções desreguladoras têm um efeito negativo a curto prazo." Ponto. Parágrafo.
Laboratórios de uma experiência social perversa, os países em estágio avançado de desregulamentação do trabalho oferecem aquele espetáculo ao alcance do olhar de todo turista: empobrecimento, queda nos serviços públicos e, em alguns casos, surtos autoritários e reações fascistas. Isso acontece porque as reformas colocam em movimento uma bola de neve negativa, que começa pela perda de renda, depois o empobrecimento e a queda no consumo, que acaba enfraquecendo a demanda e a produção – num conjunto que bloqueia a retomada da economia, em vez de reanimá-la. Mesmo juros perto de zero não atrapalham mas estão longe de alcançar o efeito desejado.
No caso brasileiro, a destruição da CLT é mais do que uma lembrança histórica. Implica na substituição de um projeto de crescimento apoiado numa política de industrialização e construção de um mercado de massas, pela integração subordinada ao mercado mundial, onde o custo do trabalhador brasileiro precisa ser compatível com aquilo que países na mesma situação oferecem.
"Estamos falando de uma mudança muito mais profunda do que se pensa" afirma o sociólogo Clemente Ganz, do Dieese, um aplicado estudioso da reforma. "O eixo da economia deixa de ser interno para ser determinado de fora para dentro. O rendimento de nossos trabalhadores não tem referencia suas necessidades nem as possibilidades do país mas devem competir com o de outros assalariados. Nessa perspectiva até os chineses se tornaram mais caros. A mão de obra brasileira está sendo organizada para competir com trabalhadores de países mais pobres da Asia e também da África. Deve ser compatível com isso." Clemente Ganz acha necessário debater, sim, mudanças na legislação trabalhista. "Mas isso precisa ser debatido, negociado. Não pode ser imposto numa posição de força, goela abaixo."
Quando faltam poucos dias para o Senado votar a reforma, chega a ser inquietante imaginar o tipo de sociedade que se pretende construir a partir daí. Mesmo num país conhecido pela estrutura desigual, o mapa de distribuição de renda no interior dos bancos brasileiros surpreende pelo abismo construído entre a cúpula das instituições e sua base – aquela, do "mesmo barco". Mesmo numa instituição estatal, como o Banco do Brasil, a diferença de rendimento entre um diretor e um escriturário é grande – 42 vezes. No setor privado, contudo, é ainda maior. No Bradesco, a distância é de 109 vezes. No Santander, fica em 144 vezes. Mas nenhuma instituição supera o Itaú nesta matéria. Seus diretores tem um rendimento anual de R$ 12,5 milhões, o equivalente a 255 vezes aquilo que recebe um escriturário.
Olhando por essa perspectiva, é possível imaginar o que a reforma trabalhista nos aguarda, caso venha ser aprovada pelo Senado. A vida só pode piorar.
Alguém duvida?