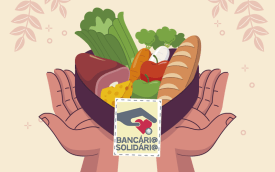São Paulo – O momento da autocrítica parece ter chegado para alguns partidos de esquerda que governam países da América do Sul, enquanto outros seguem empenhados em repelir a crítica de grupos mais radicais, movimentos populares, indígenas e ambientalistas. Realizar mudanças estruturais para reduzir o poder das elites agrárias e urbanas, e acelerar o processo de industrialização são ações citadas como tarefas urgentes para parte da militância, sob pena de perderem a oportunidade histórica que construíram em anos de luta. É o que se pode constatar conversando com dirigentes políticos que participam do 19º encontro do Foro de São Paulo, que reúne na capital paulista até dia 4 de agosto representantes de mais de cem siglas latino-americanas identificadas com os valores do socialismo.
O secretário-executivo do Foro de São Paulo, Valter Pomar, gosta de lembrar em suas intervenções públicas que, quando o grupo foi criado, em 1990, Cuba era o único governo de esquerda em todo o continente. Na tentativa de reverter o desequilíbrio geopolítico, Fidel Castro e o então candidato derrotado à Presidência da República brasileira, Luiz Inácio Lula da Silva, resolveram criar uma entidade que articulasse e promovesse o diálogo entre as forças contrárias ao neoliberalismo que na época, com exceção da Ilha, reinava do México à Terra do Fogo. Dezenove anos depois, a realidade é bem diferente. Antes marginalizados, os partidos de esquerda agora estão bem estabelecidos no sistema político – ou muito bem estabelecidos nos governos – de seus países. Administram nove nações latino-americanas e estariam à frente de mais outras três, Honduras, Paraguai e Chile, se não tivessem sofrido golpes militar ou parlamentar ou simplesmente perdido as eleições.
A época das vacas magras no final do século passado começou a engordar com o triunfo eleitoral de Hugo Chávez, na Venezuela, em 1998. De acordo com Pomar, porém, a morte do líder bolivariano, no último 5 de março, vítima de um câncer na pélvis, estaria provocando uma espécie de ressaca no avanço da esquerda regional. “As dificuldades na eleição de Nicolás Maduro”, afirma, lembrando a diferença de apenas dois pontos obtida pelo herdeiro do chavismo contra seu adversário, Henrique Capriles, “fizeram uma parte da esquerda latino-americana se dar conta de que estamos em uma nova etapa, diferente dos anos 1998-2008, marcados pela ofensiva da esquerda.” O secretário-executivo do Foro de São Paulo argumenta que o processo eleitoral venezuelano ativou os sinais de alerta entre as forças progressistas da região. “Vivemos a contra-ofensiva da direita, acelerada pelos impactos da crise internacional, pela rearticulação do imperialismo norte-americano e pelos limites da estratégia da própria esquerda.”
No Brasil, esses limites têm sido interpretados por alguns analistas como um princípio de esgotamento do lulismo – alcunha com que se convencionou denominar o amplo acordo político, econômico e social costurado pelo ex-presidente Lula após o escândalo do mensalão, ainda em seu primeiro governo.
As denúncias que balançaram a administração petista, em 2005, fizeram Lula adotar uma política de alianças dentro e fora de Brasília: no Congresso, o presidente abraçou o PMDB e aglutinou siglas ideologicamente opostas em torno de sua base de apoio; além de adotar políticas que conseguiram agradar – ou, ao menos, evitar a oposição ferrenha de – banqueiros e sindicatos, sem-terra e latifundiários, desenvolvimentistas e ambientalistas.
O pacto lulista permitiu ao país avançar no combate à pobreza extrema lançando mão de medidas que melhoraram a vida de milhões de brasileiros, novos ingressantes na classe média, sem ferir os interesses das elites nacionais e internacionais. Tudo parecia caminhar relativamente bem, com baixo índice de desemprego, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos à vista, até que vieram as manifestações de junho. Então, governo e PT se puseram a pensar.
Nos demais países da América do Sul, “os limites da estratégia da própria esquerda” não são tão claros quanto podem ser milhões de pessoas tomando as ruas simultaneamente. Ainda assim, é generalizado o sentimento de que é preciso avançar nas transformações iniciadas nos últimos dez anos. “No Uruguai, não estamos isentos da mesma discussão em que está mergulhada toda a esquerda latino-americana”, opina Daniel Esteves, membro das bases montevideanas do Frente Amplio, partido que desde 2005, com Tabaré Vázquez, e agora com José Mujica, governa o destino dos uruguaios. “Na Argentina, na Venezuela, no Uruguai ou no Brasil, a esquerda se movimenta sobre um sistema capitalista. Assim, promover mudanças em favor dos trabalhadores e das grandes maiorias é uma tarefa difícil, porque tudo que tentamos fazer, fazemos sobre bases que foram construídas para manter a ordem estabelecida, e não para permitir transformações.”
Ao ser questionado sobre os maiores desafios para a esquerda uruguaia daqui pra frente, Esteves não titubeia. “Estamos registrando crescimento sustentável da economia, reduzimos sensivelmente os índices de pobreza e desemprego, fizemos investimentos importantes em saúde e educação”, enumera, “mas ainda não modificamos das estruturas econômicas do país. Nossa tarefa, agora, é descobrir como introduzir mudanças que nos permitam transformar a economia e vislumbrar uma relação produtiva diferente. Assim poderemos avançar mais.”
Carlos Alejandro, também dirigente do Frente Amplio, e delegado do partido no Foro de São Paulo, complementa: “Estamos todos no mesmo caminho: ainda não conseguimos fincar suficientemente os dentes nas estruturas produtivas e nos aparatos financeiros de nossos países”, analisa. “Se continuamos com essa lógica, que ainda privilegia grandes empresários, banqueiros e latifundiários, não poderemos dar as respostas que as pessoas esperavam que déssemos quando nos elegeram.”
Não por acaso, a necessidade de uma “mudança de rumos” tornou-se um dos principais temas em discussão no 19° encontro do Foro de São Paulo. “Precisamos realizar reformas estruturais. Isto é bastante claro no caso brasileiro, onde a cultura, a política e a economia continuam sob hegemonia do grande capital”, concorda Valter Pomar, que, além de secretário-executivo do grupo, é secretário de relações internacionais e membro da executiva nacional do PT. “Desde já precisamos caminhar no sentido de cumprir a agenda democrático-popular, por exemplo, fazer as reformas agrária e urbana, desmontar o oligopólio financeiro e o da comunicação, reformar o Estado e a política, ampliar o peso do investimento público e social, gerar uma dinâmica de industrialização e inovação tecnológica baseada principalmente na sinergia causada pela oferta de bens públicos, e não na ampliação do consumo e do investimento privado.”
Reduzir a dependência das exportações de produtos primários – que, ao contrário do que se esperava há dez anos, acabou intensificando-se durante os governos de esquerda na América do Sul – é um dos maiores pontos de encontro entre os partidos progressistas reunidos no Foro de São Paulo. “Tivemos um vento favorável que foram os altos preços das commodities, que nos permitiram elevar o PIB de nossos países”, pontua o uruguaio Daniel Esteves. “Mas isso não vai durar para sempre.”
A mesma certeza ecoa nas palavras de Leonilda Zurita Vargas, secretária de relações internacionais do Movimento ao Socialismo (MAS), partido do presidente Evo Morales, que governa a Bolívia desde 2006. “Temos uma agenda para 2025, ano do bicentenário da nossa independência, quando queremos estar produzindo e consumindo nossos próprios produtos”, defende, lembrando que a economia boliviana pauta-se, sobretudo, pela exploração e venda de gás natural, derivados de petróleo e produtos agrícolas. Zurita comemora que, sob a gestão do MAS, o comércio exterior tenha servido para aumentar as reservas internacionais do país, que passaram de US$ 1,8 milhão para US$ 14 bilhões. Mas não está satisfeita. “Não temos que ficar vendendo matéria-prima: devemos exportar bens industrializados.”
O desafio da industrialização também está na agenda da esquerda venezuelana. Fundado pelo então presidente Hugo Chávez em 2006 para reunir numa só sigla todas as forças políticas adeptas da chamada revolução bolivariana, o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) pouco conseguiu avançar na histórica – e extrema – dependência do país em relação ao petróleo. “Nosso horizonte se apequena quando nos limitamos a sustentar uma estrutura que sobrevive das rendas petrolíferas”, explica Rodrigo Cabezas, ex-ministro de Finanças da Venezuela e atual secretário de relações internacionais do partido chavista. Cabezas avalia que a industrialização é um desafio de longo prazo, mas que deve começar imediatamente. “Nossa entrada no Mercosul é uma nova oportunidade histórica para instalar uma plataforma de indústrias especializadas. Não podemos exportar de tudo, mas temos algumas vantagens comparativas que nos permitiriam desenvolver indústrias petroquímicas, energéticas e siderúrgicas. Podemos construir milhares de fábricas.”
Cabezas explica que a morte de Hugo Chávez, a necessidade de organizar eleições em menos de dois meses e concentrar-se na campanha de Nicolás Maduro, sob forte acosso da oposição venezuelana, ainda não permitiram aos membros PSUV avaliar internamente os rumos que tomaram – e os que devem tomar – a revolução bolivariana agora que seu líder máximo já não está presente. “Temos um déficit de espaços de discussão porque estamos atendendo ao que é mais urgente”, justifica, “mas no primeiro semestre de 2014 faremos uma grande reflexão para definir como e com quem deveremos dar continuidade ao processo iniciado por Chávez.”
A base para as discussões, continua Cabezas, serão as autocríticas deixadas pelo próprio presidente antes de morrer. “Depois de sua última vitória, em outubro, Chávez falou da necessidade de aprofundar o poder popular e fazer do PSUV um partido mais orgânico, não apenas uma sigla eleitoral, para que fôssemos pouco a pouco desmontando o Estado e conferindo mais capacidade de decisão às comunas.”
O chamado “poder popular” também se mostra um desafio para o futuro próximo do Movimento Pátria Altiva e Soberana (País), que governa o Equador desde 2007. Essa foi uma necessidade mapeada pelo partido após a tentativa de golpe de Estado sofrida pelo presidente Rafael Correa em setembro de 2010 e pouco a pouco se vai concretizando na capital, Quito, e no interior. “Estamos construindo Comitês da Revolução Cidadã para que as próprias pessoas se conscientizem dos avanços alcançados nos últimos anos e possam defendê-los”, explica Juan Carlos Aldas, coordenador de Ação Política do Movimento País. “Queremos incluir a todos que queiram participar na construção do poder popular.” Esse trabalho tem dado resultados: nas últimas eleições presidenciais, em abril, a militância do partido estava muito mais organizada – e presente nas ruas da capital – do que quatro anos atrás. “Depois de tantos processos eleitorais, plebiscitos e consultas, já estamos estruturados nas 23 províncias do país. Agora precisamos consolidar as transformações, aproveitando a maioria absoluta que temos na Assembleia Nacional.”
Diferentemente de outros dirigentes, Aldas não tece maiores críticas ao governo do Movimento País. Diz apenas que é necessário escolher melhor os deputados lançados pelo partido, para que não aconteça como na última legislatura equatoriana, quando membros da sigla passaram para a oposição. “A revolução é como um submarino: conforme se aprofunda, os parafusos frouxos são os primeiros a saltar fora por causa da pressão”, cutuca. Outra observação é que deveria haver uma maior coordenação política entre a Presidência e a Assembleia Nacional. “Muitas vezes as leis não foram bem discutidas.” Pelas palavras do coordenador de ação política do Movimento País, é possível notar que o embate entre governo e oposição, acirrado pelo incessante ataque midiático, ainda pauta a disputa política no Equador. “Nos encontramos numa espécie de sanduíche: a esquerda diz que somos neoliberais e a direita, que somos radicais”, pondera. “Nesse sentido, nossa oposição de esquerda tem sido extremamente funcional à direita equatoriana.”
Nem mesmo as críticas dos movimentos indígenas e ambientalistas, ferrenhos opositores das política extrativistas de Rafael Correa, sensibilizam Aldas. Ao contrário do que se esperava, o governo do Movimento País tem expandido a fronteira petrolífera do Equador, com a abertura de novos campos de exploração, além de autorizar a entrada da mineração industrial e a céu aberto no país, sobretudo nas regiões amazônicas. O dinheiro tem sido utilizado para grandes obras de sociais e de infraestrutura, e o dirigente cita várias: “Hoje, 95% dos recursos do petróleo ficam conosco, o que nos permitiu realizar uma melhor distribuição de renda, construir escolas, hospitais, estradas, hidrelétricas”, enumera. “Assim conseguimos fechar a torneira da emigração e mandar oito mil estudantes para as melhores universidades do mundo.” No entanto, diante das exigência de populações indígenas a serem consultadas sobre a extração de petróleo e minérios em seus territórios, uma direito garantido pela Constituição, Aldas responde. “Primeiro, ganhem as eleições. Depois poderão dirigir a economia. A oposição de esquerda perde escandalosamente, e ainda assim critica tudo o que fazemos.”
Tadeu Breda, da Rede Brasil Atual - 5/8/2013